Há coisas piores do que a morte
No romance As sombras do céu apagaram nossos rastros, Ozair Vasconcelos transforma o sertão em consciência moral e faz do silêncio uma força narrativa incontornável
Washington Araújo - 03/01/2025

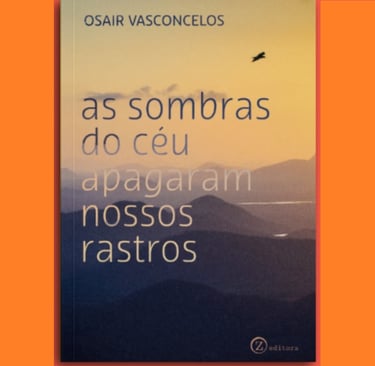
Todo começo de ano me concede quatro ou cinco dias de licença interior — um intervalo curto, mas necessário, para arejar a alma depois de doze meses escrevendo diariamente sobre política econômica, tarifas, guerras distantes e próximas, operações nos morros, emendas parlamentares, desmatamento, inteligência artificial, golpes financeiros, bancos suspeitos e a engrenagem ruidosa do poder. São dias raros em que o barulho do mundo diminui e a escrita deixa de ser trincheira para voltar a ser escuta.
É o meu freio de arrumação: diminuir o passo, reorganizar ideias, respirar outros ares antes que o calendário volte a apertar o cerco. Nesse silêncio provisório, a literatura reaparece como abrigo e reencontro. Hoje, deixo o noticiário de lado para falar de um escritor ainda pouco conhecido fora de seu território, mas dono de uma escrita que reúne a secura precisa de Graciliano Ramos, a pulsação humana de José Lins do Rego e o olhar amazônico de Milton Hatoum. Falo de Ozair Vasconcelos.
Há livros que não pedem licença ao leitor. Entram, ocupam espaço, desarrumam o interior e deixam marcas difíceis de apagar. As sombras do céu apagaram nossos rastros pertence a essa linhagem rara. Não é um romance empenhado em agradar nem em confirmar expectativas; exige atenção ética, fôlego narrativo e disposição para atravessar zonas de desconforto. Organizado em cinco capítulos derramados com precisão ao longo de 137 páginas, o livro aposta numa arquitetura enxuta, sem gordura estrutural, publicado sob a chancela da natalense Z Editora, o que já indica uma escolha editorial coerente com a densidade da obra.
A escrita de Ozair Vasconcelos revela domínio pleno da linguagem como matéria viva. A prosa não corre; avança em ondas longas, por vezes vertiginosas, por vezes abruptas, como se soubesse quando o leitor precisa respirar e quando deve ser submerso. A frase extensa, rítmica e acumulativa cumpre função sensorial: reproduz estados de confusão, arrebatamento e perda de controle. A linguagem não descreve o mundo — participa dele.
Há, no romance, algo profundamente cinematográfico. As imagens são secas, diretas, quase sem mediação, formando planos sucessivos que se sobrepõem como numa montagem rigorosa. Em muitos momentos, a narrativa avança como câmera baixa, rente ao chão, depois se eleva abruptamente para um plano aberto, onde céu e terra pesam sobre os personagens. Essa força imagética arrebata com a intensidade que só o cinema, depois da literatura, consegue alcançar. Não por acaso, é fácil imaginar Fernanda Torres encarnando Rosa Ana, com sua capacidade de conter vulcões internos, enquanto Wagner Moura poderia dar corpo e ambiguidade a Gonçalo — ou, em registros distintos, assumir as figuras de João e Inácio, personagens moldados pelo silêncio e pela tensão contida.
O episódio central envolvendo Rosa Ana concentra esse projeto narrativo. Ozair assume um risco alto ao construir uma cena em que erotismo e violência não se separam com facilidade. O texto não busca sedução; instala desconforto. A natureza não embeleza o acontecimento, antes o amplia e o observa. Árvores, folhas, vento e sons formam um coro inquietante que dissolve fronteiras entre corpo e paisagem. Trata-se de uma operação literária sofisticada, herdeira da tradição regionalista em que o sertão não é cenário, mas força moral ativa.
“Há coisas piores do que a morte e que um homem nunca quer ouvir.” A frase cai como sentença antiga, sem ornamento nem explicação. Condensa uma ética forjada no silêncio, onde morrer não é o limite do horror. O insuportável é ouvir aquilo que destrói o lugar do homem no mundo: a falência da proteção, a ruptura do pacto entre pai, filha e terra. É literatura que confia no peso da palavra curta e na inteligência do leitor.
O romance também desloca os sinais do desastre do chão para o alto. “Não é a terra que dá os primeiros sinais de algo estranho. É o céu.” E, adiante: “O céu jogava sombras sobre a terra.” O céu de Ozair não consola nem absolve; pesa, adverte, antecipa a tragédia. Dialoga diretamente com a melhor tradição regionalista brasileira, em que o Nordeste não é paisagem ilustrativa, mas consciência histórica. O céu torna-se personagem invisível, juiz silencioso que legitima o que virá.
A narrativa avança menos pelo que é dito e mais pelo que se cala. Augusta Maria, Salvador, Inácio e João são personagens moldados pela contenção. Os diálogos curtos carregam peso de sentença. Não há psicologização excessiva nem explicações morais fáceis. O autor confia no silêncio como recurso narrativo e no sertão como sistema ético fechado, regido por honra, vergonha e pertencimento.
Como todo projeto ambicioso, o romance não está imune a riscos. Em alguns trechos, a densidade imagética se aproxima do limite. Ainda assim, trata-se de escolha consciente, não de descontrole. Prefiro um escritor que arrisque a linguagem a outro que escreva com medo. Ozair Vasconcelos conhece a tradição, dialoga com ela e, ao mesmo tempo, se autoriza a seguir o próprio caminho.
As sombras do céu apagaram nossos rastros não é um livro confortável. É literatura de enfrentamento, escrita com consciência histórica e ambição formal. O leitor atento não sai aliviado, mas transformado — não por respostas recebidas, e sim pelas perguntas que permanecem.
A partir de amanhã, porém, esse breve intervalo se encerra. Voltaremos à dureza do cotidiano: às manchetes ásperas, aos conflitos sem metáfora, às urgências que não concedem pausa.
É justamente por isso que livros como o de Ozair Vasconcelos importam. Não servem para fugir do mundo, mas para voltar a ele com os sentidos mais atentos, a consciência mais alerta e a certeza de que, sem literatura, a realidade pesa mais. Muito mais.
https://revistaforum.com.br/opiniao/ha-coisas-piores-do-que-a-morte/
